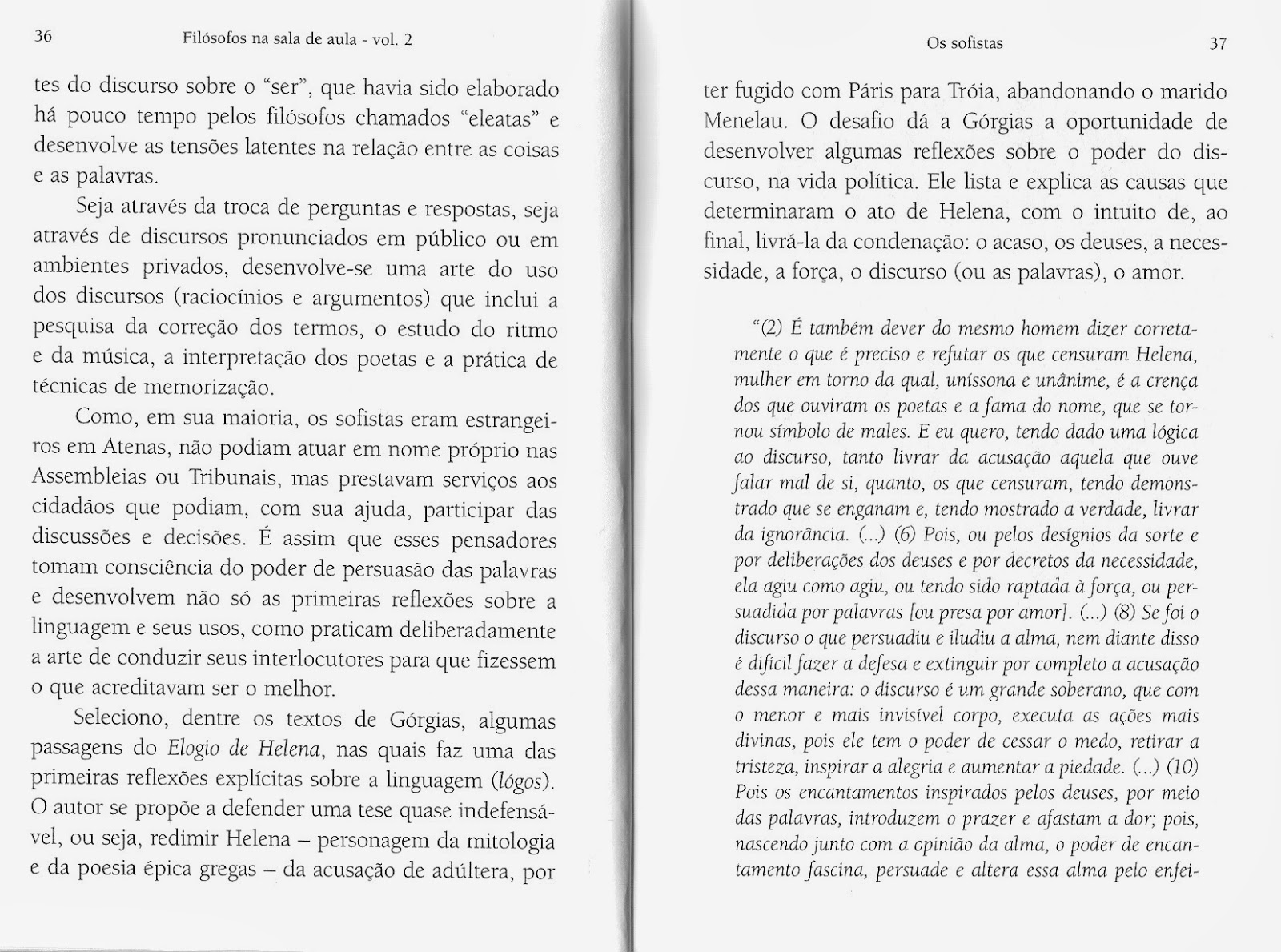domingo, 17 de novembro de 2013
quarta-feira, 6 de novembro de 2013
3º Filo: Silogismo
O silogismo para Aristóteles deve ser mediado, dedutivo e necessário
Inferir significa extrair uma proposição como conclusão de outras. O silogismo é o argumento que, segundo Aristóteles, possui três características: é mediado, dedutivo e necessário.
O silogismo é mediado, pois não é apreendido imediatamente da percepção, mas deve usar o raciocínio para compreender o real. É dedutivo porque parte da verdade de premissas universais para se chegar a outras premissas. E é necessário, porque estabelece uma cadeia causal entre as premissas.
As premissas, para formar um silogismo, devem ser assim distribuídas:
- A primeira premissa, chamada de premissa maior, deve conter o termo maior e o termo médio;
- A segunda premissa, chamada de premissa menor, deve conter o termo médio e o termo menor;
- A conclusão deve conter os termos maior e menor.
Abaixo, seguem algumas regras para um melhor entendimento da forma do silogismo:
1. O silogismo deve sempre conter três termos: o maior, o menor e o médio;
2. O termo médio deve fazer parte das premissas e nunca da conclusão e deve ser tomado ao menos uma vez em toda a sua extensão;
3. Nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas, porque assim, concluir-se-á mais que o permitido, ou seja, uma das premissas deverá ser sempre universal e necessária, positiva ou negativa.
4. A conclusão não pode conter o termo médio (vide item 2);
5. De duas premissas negativas, nada poderá ser concluído. O termo médio não terá ligado os extremos;
6. De duas premissas afirmativas, a conclusão deve ser afirmativa, evidentemente;
7. De duas proposições particulares, nada poderá ser concluído (vide item 2);
8. A conclusão sempre acompanha a parte “fraca”, isto é, se houver uma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver uma premissa particular, a conclusão será particular. Se houver ambas, a conclusão deverá ser negativa e particular.
Dessa forma, pode-se configurar alguns modos de silogismo em Aristóteles:
A. Todas as proposições são universais afirmativas.
Ex.:
Todos os homens são mortais.
Todos os brasileiros são homens.
Logo, todos os brasileiros são mortais.
Este é o famoso silogismo perfeito, porque demonstra a ligação necessária entre indivíduo, espécie e gênero. É o que visa à ciência.
B. A premissa maior é universal negativa, a premissa menor é universal afirmativa e a conclusão é universal negativa.
Ex.:
Nenhum astro é perecível.
Todas as estrelas são astros.
Logo, nenhuma estrela é perecível.
C. A premissa maior é universal afirmativa, a premissa menor é particular afirmativa e a conclusão é particular afirmativa.
Ex.:
Todos os homens são mortais.
João é homem.
Logo, João é mortal.
D. A premissa maior é universal negativa, a premissa menor é particular afirmativa e a conclusão é particular negativa.
Ex.:
Nenhum rei é amado.
Henrique VII é um rei.
Logo, Henrique VII não é amado.
É claro que pelas possibilidades, existem até 64 modos de se produzir um argumento ou silogismo, mas na prática, essas são as suas formas mais utilizadas. Lembrando que essas regras são utilizadas para fazer o famoso cálculo de predicados naquilo que chamamos de lógica formal aristotélica.
3º Filo: ARGUMENTOS E FALÁCIAS
ARGUMENTOS E FALÁCIAS
Uma falácia é um argumento logicamente inconsistente, inválido, ou falho na capacidade de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntima, psicológica ou emotiva, mas não validade lógica.
É importante conhecer os tipos de falácia para evitar armadilhas lógicas na própria argumentação e para analisar a argumentação alheia.
TIPOS DE FALÁCIAS (alguns dos nomes usados estão em latim- tradução ao lado.)
Argumentum ad antiquitatem (Argumento de antiguidade ou tradição): Afirmar que algo é verdadeiro ou bom porque é antigo ou "sempre foi assim".
Ex: "Se o meu avô diz que Garrincha foi melhor que Pelé, deve ser verdade."
Argumentum ad hominem (Ataque ao argumentador): Em vez de o argumentador provar a falsidade do enunciado, ele ataca a pessoa que fez o enunciado.
Ex: "Se foi um burguês quem disse isso, certamente é engodo".
Argumentum ad ignorantiam (Argumento da Ignorância): Ocorre quando algo é considerado verdadeiro simplesmente porque não foi provado que é falso (ou provar que algo é falso por não haver provas de que seja verdade). Note que é diferente do princípio científico de se considerar falso até que seja provado que é verdadeiro.
Ex: "Existe vida em outro planeta, pois nunca provaram o contrário"
Argumentum ad Baculum (Apelo à Força): Utilização de algum tipo de privilégio, força, poder ou ameaça para impor a conclusão.
Ex: "Acredite em Deus, senão queimará eternamente no Inferno."
"Acredite no que eu digo; não se esqueça de quem é que paga o seu salário"
Argumentum ad populum (Apelo ao Povo): É a tentativa de ganhar a causa por apelar a uma grande quantidade de pessoas.
Ex: "A maioria das pessoas acredita em alienígenas, portanto eles existem."
"Inúmeras pessoas usam essa marca de roupa; portanto, ela possui um tecido de melhor qualidade."
Argumentum ad Verecundiam (Apelo à autoridade): Argumentação baseada no apelo a alguma autoridade reconhecida para comprovar a premissa.
Ex: "Se Aristóteles disse isto, então é verdade."
Dicto Simpliciter' (Regra geral): Ocorre quando uma regra geral é aplicada a um caso particular onde a regra não deveria ser aplicada.
Ex: "Se você matou alguém, deve ir para a cadeia." (não se aplica a certos casos de profissionais de segurança)
Generalização Apressada (Falsa indução): Ocorre quando uma regra específica é atribuída ao caso genérico.
Ex: "Minha namorada me traiu. Logo, as mulheres tendem à traição."
Falácia de Composição (Tomar o todo pela parte): É o fato de concluir que uma propriedade das partes deve ser aplicada ao todo.
Ex: "Todas as peças deste caminhão são leves; logo, o caminhão é leve."
Falácia da Divisão (Tomar a parte pelo todo): Oposto da falácia de composição. Assume que uma propriedade do todo é aplicada a cada parte.
Ex: 1) "Você deve ser rico, pois estuda em um colégio de ricos."
2) "A ONU afirmou que o Brasil é um país com muita violência e injustiça; logo, a ONU chamou-nos a todos nós brasileiros de violentos e injustos".
Ignoratio Elenchi (Conclusão sofismática):
Ou "Falácia da Conclusão Irrelevante". Consiste em utilizar argumentos válidos para chegar a uma conclusão que não tem relação alguma com os argumentos utilizados.
Ex: "Os astronautas do Projeto Apollo eram bem preparados, todos eram excelentes aviadores e tinham boa formação acadêmica e intelectual, além de apresentar boas condições físicas. Logo, foi um processo natural os EUA ganharem a corrida espacial contra a União Soviética pois o povo americano é superior ao povo russo."
Anfibologia ou Ambigüidade:
Ocorre quando as premissas usadas no argumento são ambíguas devido à má elaboração sintática.
Ex: "Venceu o Brasil a Argentina."
"Ele levou o pai ao médico em seu carro."
Acidente:
Quando considera-se essencial o que é apenas acidental.
Ex: "A maior parte dos políticos são corruptos. Então a política é corrupta."
Argumentum ad Crumenam :
Esta falácia é a de acreditar que dinheiro é fator de estar correto. Aqueles mais ricos são os que provavelmente estão certos.
Ex: "O Barão é um homem vivido e conhece como as coisas funcionam. Se ele diz que é bom, há de ser."
Uma falácia é um argumento logicamente inconsistente, inválido, ou falho na capacidade de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntima, psicológica ou emotiva, mas não validade lógica.
É importante conhecer os tipos de falácia para evitar armadilhas lógicas na própria argumentação e para analisar a argumentação alheia.
TIPOS DE FALÁCIAS (alguns dos nomes usados estão em latim- tradução ao lado.)
Argumentum ad antiquitatem (Argumento de antiguidade ou tradição): Afirmar que algo é verdadeiro ou bom porque é antigo ou "sempre foi assim".
Ex: "Se o meu avô diz que Garrincha foi melhor que Pelé, deve ser verdade."
Argumentum ad hominem (Ataque ao argumentador): Em vez de o argumentador provar a falsidade do enunciado, ele ataca a pessoa que fez o enunciado.
Ex: "Se foi um burguês quem disse isso, certamente é engodo".
Argumentum ad ignorantiam (Argumento da Ignorância): Ocorre quando algo é considerado verdadeiro simplesmente porque não foi provado que é falso (ou provar que algo é falso por não haver provas de que seja verdade). Note que é diferente do princípio científico de se considerar falso até que seja provado que é verdadeiro.
Ex: "Existe vida em outro planeta, pois nunca provaram o contrário"
Argumentum ad Baculum (Apelo à Força): Utilização de algum tipo de privilégio, força, poder ou ameaça para impor a conclusão.
Ex: "Acredite em Deus, senão queimará eternamente no Inferno."
"Acredite no que eu digo; não se esqueça de quem é que paga o seu salário"
Argumentum ad populum (Apelo ao Povo): É a tentativa de ganhar a causa por apelar a uma grande quantidade de pessoas.
Ex: "A maioria das pessoas acredita em alienígenas, portanto eles existem."
"Inúmeras pessoas usam essa marca de roupa; portanto, ela possui um tecido de melhor qualidade."
Argumentum ad Verecundiam (Apelo à autoridade): Argumentação baseada no apelo a alguma autoridade reconhecida para comprovar a premissa.
Ex: "Se Aristóteles disse isto, então é verdade."
Dicto Simpliciter' (Regra geral): Ocorre quando uma regra geral é aplicada a um caso particular onde a regra não deveria ser aplicada.
Ex: "Se você matou alguém, deve ir para a cadeia." (não se aplica a certos casos de profissionais de segurança)
Generalização Apressada (Falsa indução): Ocorre quando uma regra específica é atribuída ao caso genérico.
Ex: "Minha namorada me traiu. Logo, as mulheres tendem à traição."
Falácia de Composição (Tomar o todo pela parte): É o fato de concluir que uma propriedade das partes deve ser aplicada ao todo.
Ex: "Todas as peças deste caminhão são leves; logo, o caminhão é leve."
Falácia da Divisão (Tomar a parte pelo todo): Oposto da falácia de composição. Assume que uma propriedade do todo é aplicada a cada parte.
Ex: 1) "Você deve ser rico, pois estuda em um colégio de ricos."
2) "A ONU afirmou que o Brasil é um país com muita violência e injustiça; logo, a ONU chamou-nos a todos nós brasileiros de violentos e injustos".
Ignoratio Elenchi (Conclusão sofismática):
Ou "Falácia da Conclusão Irrelevante". Consiste em utilizar argumentos válidos para chegar a uma conclusão que não tem relação alguma com os argumentos utilizados.
Ex: "Os astronautas do Projeto Apollo eram bem preparados, todos eram excelentes aviadores e tinham boa formação acadêmica e intelectual, além de apresentar boas condições físicas. Logo, foi um processo natural os EUA ganharem a corrida espacial contra a União Soviética pois o povo americano é superior ao povo russo."
Anfibologia ou Ambigüidade:
Ocorre quando as premissas usadas no argumento são ambíguas devido à má elaboração sintática.
Ex: "Venceu o Brasil a Argentina."
"Ele levou o pai ao médico em seu carro."
Acidente:
Quando considera-se essencial o que é apenas acidental.
Ex: "A maior parte dos políticos são corruptos. Então a política é corrupta."
Argumentum ad Crumenam :
Esta falácia é a de acreditar que dinheiro é fator de estar correto. Aqueles mais ricos são os que provavelmente estão certos.
Ex: "O Barão é um homem vivido e conhece como as coisas funcionam. Se ele diz que é bom, há de ser."
Aula Foucault (foto)
Aula sobre Michel Foucault ; Panópticos invisíveis, poder e adestramento social. Obrigada pela foto Jheniffer Lais!
terça-feira, 5 de novembro de 2013
segunda-feira, 4 de novembro de 2013
2º MA: O contexto do filme Ilha das Flores
Curta-metragem, Documentário, Brasil, 1989, 13min.; colorido.
Elenco: Ciça Reckziegel, Gozei Kitajima, Takehijo Suzuki.
Narração Paulo José.
Direção: Jorge Furtado.
“O que coloca o ser humano da Ilha das Flores, depois dos porcos, na questão da escolha de alimentos, é o fato de não terem dinheiro, nem dono”.
A frase acima se refere a um lugar denominado Ilha das Flores que é, ironicamente, um lixão da região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesse espaço, o lixo é separado e, o que não serve de alimento para os porcos que habitam o lugar, vai ser a comida de seres humanos que, apesar de serem dotados de tele-encéfalo superior e possuir polegar opositor (características que destacam o ser humano de outros animais), precisam fazer fila, em grupos 10 em 10, para serem autorizados a entrarem no lixão e, em 5 minutos, escolher o que irão comer, em meio a restos dos porcos.
Filme de extrema importância para o professor que pretende trabalhar, em sala de aula, temas como as desigualdades sociais da atualidade, a falta de humanidade a que são submetidos muitos seres humanos e a corrida atrás do lucro.
Sugestões temáticas
Desigualdades sociais
Miséria
Fome
Escambo
Lucro
Propriedade privada
Ser humano x animal
Lixão: alimentação alternativa
Fonte: http://filmes.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=587
Ilha das Flores
Encontro marcado com a miséria
A miséria é o tópico central do premiadíssimo trabalho do diretor Jorge Furtado. A utilização de um título que contradiz a trama desenvolvida ao longo dos 13 minutos de duração do curta-metragem foi uma das ótimas idéias apresentadas nesse trabalho. Mas não é a única.
A exposição didática das idéias, de forma encadeada, amarrada as informações, na medida em que elas aparecem na narração sólida e segura do ator Paulo José, constituem o eixo em torno do qual acabam gravitando os espectadores.
O ritmo alucinado utilizado para que fiquemos sabendo sobre os tomates do Sr. Suzuki, o perfume de dona Anete, o surgimento do dinheiro e as peculiaridades dos seres humanos (o polegar opositor e o tele-encéfalo altamente desenvolvido), nos dá pouco tempo para refletir sobre toda a informação e exige que acabemos assistindo ao vídeo duas ou até mesmo, três vezes.
Outra característica marcante do curta-metragem Ilha das Flores é a profusão de imagens. É como se tudo fosse uma verdadeira colagem feita pelo diretor e pelos editores do filme. As imagens se sucedem na medida da necessidade de explicação de um conceito apresentado no texto. Chega a ser um tanto quanto enlouquecedor e, nesse aspecto, reside um dos fatores que torna o filme imperdível, todos (inclusive e, especialmente, os alunos) prestam atenção o tempo todo.
O fato de ser um curta-metragem é outro aspecto particularmente interessante para os educadores. Pode ser encaixado facilmente no tempo de uma aula e não permite que os alunos possam sequer esboçar um bocejo.
O mais importante, porém é que "Ilha das Flores" coloca em pauta a discussão acerca da pobreza, da fome e da exclusão social. Levando-se em conta que foi produzido em 1989, dá para perceber que as coisas não mudaram muito entre o Brasil daquela época e o de hoje...
A História
O Sr. Suzuki, japonês, plantador de tomates, atuando na região de Porto Alegre, despacha seus produtos através de uma Kombi para os supermercados da região metropolitana da capital gaúcha.
Dona Anete, brasileira, vendedora de perfumes, percorre a cidade em busca de pessoas interessadas em adquirir suas mercadorias. Das vendas auferidas e, retirando-se os custos para a aquisição do produto, surge o lucro. Com o lucro, Dona Anete vai a um supermercado de Porto Alegre e compra tomates e carne de porco.
A carne de porco e os tomates são os ingredientes principais na refeição que está sendo preparada por Dona Anete para sua família. Entre os tomates comprados por Dona Anete havia um considerado impróprio para o consumo humano (de acordo com o parecer da personagem). Esse produto deteriorado foi atirado no lixo.
Como acontece todos os dias em várias grandes cidades do Brasil e do mundo, o lixo foi recolhido e enviado para depósitos, localizados a margem das metrópoles. O que é identificado como lixo orgânico é separado e utilizado como alimento para os porcos de um dos criadores estabelecidos num dos lixões de Porto Alegre, ironicamente chamado de "Ilha das Flores".
O problema é que, depois da coleta seletiva, que indicou o que poderia ser aproveitado pelos suínos, outros seres humanos (que como os anteriores também são dotados de tele-encéfalo superior e polegar opositor) passam a disputar as sobras do lixão de Ilha das Flores...
Elenco: Ciça Reckziegel, Gozei Kitajima, Takehijo Suzuki.
Narração Paulo José.
Direção: Jorge Furtado.
“O que coloca o ser humano da Ilha das Flores, depois dos porcos, na questão da escolha de alimentos, é o fato de não terem dinheiro, nem dono”.
A frase acima se refere a um lugar denominado Ilha das Flores que é, ironicamente, um lixão da região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesse espaço, o lixo é separado e, o que não serve de alimento para os porcos que habitam o lugar, vai ser a comida de seres humanos que, apesar de serem dotados de tele-encéfalo superior e possuir polegar opositor (características que destacam o ser humano de outros animais), precisam fazer fila, em grupos 10 em 10, para serem autorizados a entrarem no lixão e, em 5 minutos, escolher o que irão comer, em meio a restos dos porcos.
Filme de extrema importância para o professor que pretende trabalhar, em sala de aula, temas como as desigualdades sociais da atualidade, a falta de humanidade a que são submetidos muitos seres humanos e a corrida atrás do lucro.
Sugestões temáticas
Desigualdades sociais
Miséria
Fome
Escambo
Lucro
Propriedade privada
Ser humano x animal
Lixão: alimentação alternativa
Fonte: http://filmes.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=587
Ilha das Flores
Encontro marcado com a miséria
A miséria é o tópico central do premiadíssimo trabalho do diretor Jorge Furtado. A utilização de um título que contradiz a trama desenvolvida ao longo dos 13 minutos de duração do curta-metragem foi uma das ótimas idéias apresentadas nesse trabalho. Mas não é a única.
A exposição didática das idéias, de forma encadeada, amarrada as informações, na medida em que elas aparecem na narração sólida e segura do ator Paulo José, constituem o eixo em torno do qual acabam gravitando os espectadores.
O ritmo alucinado utilizado para que fiquemos sabendo sobre os tomates do Sr. Suzuki, o perfume de dona Anete, o surgimento do dinheiro e as peculiaridades dos seres humanos (o polegar opositor e o tele-encéfalo altamente desenvolvido), nos dá pouco tempo para refletir sobre toda a informação e exige que acabemos assistindo ao vídeo duas ou até mesmo, três vezes.
Outra característica marcante do curta-metragem Ilha das Flores é a profusão de imagens. É como se tudo fosse uma verdadeira colagem feita pelo diretor e pelos editores do filme. As imagens se sucedem na medida da necessidade de explicação de um conceito apresentado no texto. Chega a ser um tanto quanto enlouquecedor e, nesse aspecto, reside um dos fatores que torna o filme imperdível, todos (inclusive e, especialmente, os alunos) prestam atenção o tempo todo.
O fato de ser um curta-metragem é outro aspecto particularmente interessante para os educadores. Pode ser encaixado facilmente no tempo de uma aula e não permite que os alunos possam sequer esboçar um bocejo.
O mais importante, porém é que "Ilha das Flores" coloca em pauta a discussão acerca da pobreza, da fome e da exclusão social. Levando-se em conta que foi produzido em 1989, dá para perceber que as coisas não mudaram muito entre o Brasil daquela época e o de hoje...
A História
O Sr. Suzuki, japonês, plantador de tomates, atuando na região de Porto Alegre, despacha seus produtos através de uma Kombi para os supermercados da região metropolitana da capital gaúcha.
Dona Anete, brasileira, vendedora de perfumes, percorre a cidade em busca de pessoas interessadas em adquirir suas mercadorias. Das vendas auferidas e, retirando-se os custos para a aquisição do produto, surge o lucro. Com o lucro, Dona Anete vai a um supermercado de Porto Alegre e compra tomates e carne de porco.
A carne de porco e os tomates são os ingredientes principais na refeição que está sendo preparada por Dona Anete para sua família. Entre os tomates comprados por Dona Anete havia um considerado impróprio para o consumo humano (de acordo com o parecer da personagem). Esse produto deteriorado foi atirado no lixo.
Como acontece todos os dias em várias grandes cidades do Brasil e do mundo, o lixo foi recolhido e enviado para depósitos, localizados a margem das metrópoles. O que é identificado como lixo orgânico é separado e utilizado como alimento para os porcos de um dos criadores estabelecidos num dos lixões de Porto Alegre, ironicamente chamado de "Ilha das Flores".
O problema é que, depois da coleta seletiva, que indicou o que poderia ser aproveitado pelos suínos, outros seres humanos (que como os anteriores também são dotados de tele-encéfalo superior e polegar opositor) passam a disputar as sobras do lixão de Ilha das Flores...
2º MA: A desigualdade analisada no Brasil. Fome e coronelismo;
Pensando historicamente a questão das desigualdades socias no Brasil, percebemos que, com a chegada dos portugueses, elas se instalaram e ficaram!
Inicialmente, os povos indígenas que habitavam o continente foram vistos pelos europeus como seres exóticos, não dotados de alma. Depois dessa concepção, ainda hoje há quem veja os indígenas com muito preconceito, como seres inferiores e menos capazes.
Com a introdução do trabalho escravo negro, milhares de escravos africanos foram retirados de suas terras de origem para enfrentar condições terríveis de trabalho e de vida no Brasil. Até hoje seus descendentes ainda sofrem discriminação e preconceitos pelo fato de serem negros.
À partir do século XIX, com o previsto fim do trabalho escravo, houve um incentivo à vinda de imigrantes europeus, principalmente para trabalho na lavoura de café. Muitos deles vieram pensando em melhores qualidades de vida, mas aqui chegando, encontraram condições de trabalho semi-servis nas fazendas de café.
À medida que a sociedade brasileira foi se industrializando e urbanizando, novos contingentes populacionais foram absorvidos pelo mercado de trabalho nas cidades, processo iniciado no começo do século XX, acerelado na década de 1950, quando se desenvolveu no país um grande esforço de industrialização, trazendo junto a urbanização. Criou-se um proletariado industrial, e milhares de outros trabalhadores foram atraídos para as cidades afim de exercerem as mais diversas atividades.
Com essas transformações, houve um crescimento gigantesco das grandes cidades e um esvaziamento progressivo da zona rural.
Como nem toda a mão-de-obra ofertada foi absorvida nos setores industriais e urbanos, e por causa das transformações ocorridas na agricultura, foi se formando nas cidades uma grande massa de desempregados e de semi-ocupados que viviam e vivem à margem do sistema produtivo capitalista.
Hoje essa massa, praticamente não encontra chance de emprego, por tratar-se de mão-de-obra desqualificada. E é essa mão-de-obra desqualificada que evidencia, sem dúvida nenhuma, como o processo de desenvolvimento do capitalismo foi criando desigualdades, que aparecem na forma de miséria e pobreza crescentes, sendo cada vez mais difícil superar essa situação.
Vários indicadores de desigualdade se encontram em nosso cotidiano. As estatísticas da desigualdade estão todos os dias nos jornais e revistas, e demonstram a gravidade do problema, colocando o nosso país na posição de um dos países mais desiguais do mundo.
Isso não se traduz só em fome e miséria, mas também nas condições precárias de saúde, de habitação, de educação, enfim, em uma situação desumana, principalmente quando se sabe que a produção agrícola e industrial e o setor de comércio e serviços tem crescido de maneira expressiva em nosso país, demonstrando que a sociedade produz bens e serviços e riqueza, mas eles não são distribuídos de modo que atinjam todos os brasileiros.
A desigualdade a partir do século XIX começa a ser analisada no Brasil, como tentativa de explicar a pobreza relacionando-a à influencia do clima e à riqueza das matas e do solo. Afirmava-se nessa época que o brasileiro era preguiçoso, indolente, supersticioso e ignorante porque a natureza tudo lhe dava: frutos, plantas, solos férteis, etc. Era tão fácil obter ou produzir qualquer coisa que não havia necessidade de trabalhar. Será?
Uma segunda explicação estava vinculada à mestiçagem, onde diversos críticos, como Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Sílvio Romero, foram críticos ferrenhos da mestiçagem e consideravam que os mestiços demonstravam a "degeneração e falência da nação" ou que eram "decaídos, sem energia física dos ascendentes selvagens, sem atitude intelectual dos ancestrais superiores".
Um absurdo!
Entretanto para amenizar esses absurdo dois autores da época pensavam diferente: Joaquim Nabuco e Manoel Bonfim, afirmavam que graças a raça negra, havia surgido um povo no Brasil, mas que a escravidão e o latifúndio geravam verdadeiras "colônias penais" no interior. Diziam que as populações do interior tinham muita força, cordialidade e uma capacidade de atuar coletivamente, seja por meio de técnicas coletivas de trabalho, seja pelo uso comum de suas posses.
A partir de 1940 a questão das desigualdades aparecia sob um novo olhar, que passava ainda pela presença do latifúndio, da monocultura e também do subdesenvolvimento. Josué de Castro, procurou analisar a questão da desnutrição e da fome das classes populares explicando-as com base no processo de subdesenvolvimento, o qual gera desigualdades econômicas e sociais entre os povos que, no passado, tinham sido alvo da exploração colonial no mundo capitalista. Defendia a educação e a reforma agrária como elementos essenciais para resolver o problema da fome no Brasil.
Victor Nunes Leal em seu livro: Coronelismo, enxada e voto, publicado qm 1948, apresenta o coronel vinculado à propriedade rural, principalmente no Nordeste, como a base de sustentação de uma estrutura agrária que mantinha os trabalhadores rurais em uma situação de penúria, de abandono e de ausência de educação.
A relação entre as desigualdades e as classes sociais voltou a ser analisada na década de 1950, numa perspectiva que envolvia a situação dos negros na estrutura social brasileira, procuravam desmontar o mito da democracia racial brasileira, e colocaram o tema raça no contexto das classes sociais. Afirmam que os ex escravos foram integrados de forma precária, criando-se uma desigualdade constitutiva da situação que seus descendentes vivem até hoje.
A partir da década de 1960 outras temáticas sociais foram abordadas, com ênfase na análise das classes sociais existentes. Procuravam entender como ocorreu a formação do empresariado nacional, das classes médias, do operariado industrial e do proletariado rural.
Nas seguintes décadas 1970 e 1980 a preocupação situou-se na análise das novas formas de participação, principalmente dos novos movimentos sociais e do novo sindicalismo.
Buscava-se entender como os trabalhadores e deserdados do Brasil organizavam-se para fazer valer seus direitos como cidadãos, mesmo que a maioria ainda estivesse vivendo miseravelmente.
Já na década de 1990, adicionou-se um novo componente na análise das desigualdades sociais: foco sobre as questões relacionadas ao emprego e as condições de vida dos trabalhadores. A questão racial continuou presente e a questão das classes sociais permaneceu no foco, constatando-se a crescente subordinação do trabalho ao capital, tanto na cidade como no campo. A questão do gênero também ganhou espaço, destacando-se principalmente a situação desigual das mulheres em relação à dos homens.
E ainda nesse período, organismos nacionais e internacionais criaram índices sobre as desigualdades e a pobreza que revelam dados muito interessantes. No Brasil dispomos, por exemplo, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), desenvolvida pelo IBGE, e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que a ONU publica por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Esses índices apontam as mais diferentes formas de desigualdade, deixando de lado a questão das classes sociais e a exploração existente. O fundamental passa a ser quantificar os pobres, os ricos, os setores médios e os remediados da sociedade em números e gráficos a fim de orientar políticas públicas e investimentos nesta ou naquela área. Foi assim que nasceram vários programas governamentais, como o Fome Zero, Bolsa Família, Bolsa Gás, etc.
Embora a situação da classe trabalhadora seja uma constante nos estudos desenvolvidos nos últimos 50 anos, percebemos que a interpretação com base nas análise marxista das classes, que tinha por foco a questão da exploração. foi pouco a pouco perdendo espaço para análises de índices demonstrativos de diversos aspectos das desigualdades sociais, nos vários segmentos e setores da sociedade, sem a preocupação de explicá-los, trazendo com isso algumas controvérsias acerca do real entendimento sobre a questão das desigualdades no Brasil.
PETIÇÃO A FAVOR DO USO DE TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA
Estamos acompanhando, através da mídia, a tramitação, na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, do Projeto de Lei (PL) 16.724/2007, de autoria do deputado João Carlos Bacelar (PTN), que visa proibir o uso de dispositivos eletrônicos durante as aulas. Nos posicionamos contra, por entendermos que estes agenciamentos sociotécnicos podem se constituir em espaços de aprendizagem que poderão potencializar o desenvolvimento de competências comunicativas dos sujeitos em formação, bem como suas habilidades cognitivas, sociais, afetivas, as quais têm sido ampliadas, agora, pelos dispositivos móveis.
https://secure.avaaz.org/po/petition/Manifesto_contra_o_Projeto_de_Lei_PL_167242007_de_autoria_do_deputado_Joao_Carlos_Bacelar_PTN_que/edit/
Quem puder e concordar com a ideia, colaborem!
https://secure.avaaz.org/po/petition/Manifesto_contra_o_Projeto_de_Lei_PL_167242007_de_autoria_do_deputado_Joao_Carlos_Bacelar_PTN_que/edit/
Quem puder e concordar com a ideia, colaborem!
3ºS: TEXTO SOBRE DIREITOS HUMANOS
Segue o link oficial do texto no blog:
http://priscillasociologia.blogspot.com.br/2013/10/3s-direitos-sociais-economicos-e.html
http://priscillasociologia.blogspot.com.br/2013/10/3s-direitos-sociais-economicos-e.html
domingo, 27 de outubro de 2013
2ºMA: Teoria da Mais-valia
No século XIX, o desenvolvimento da economia capitalista foi capaz de determinar uma curiosa situação. Mesmo produzindo riquezas em um patamar astronômico, o capitalismo ainda estava cercado por desigualdades que indicavam a diferença social e econômica das classes burguesa e operária. Com isso, observamos que muitos intelectuais responderam a essa contradição com explicações ou propostas que resolveriam tal discrepância.
Entre esses intelectuais, o filósofo alemão Karl Marx apontou que esse abismo socioeconômico poderia ser explicado pela teoria da mais-valia. Segundo esse pensador, a miséria se perpetuava no mundo capitalista mediante os baixos salários oferecidos aos operários como um todo. Mais do que uma simples opção, o baixo salário era parte integrante dos instrumentos que garantiam os lucros almejados pela empresa.
Sendo assim, Marx indicou que o salário destinado a um trabalhador poderia ser pago com as riquezas que ele produz, por exemplo, ao longo de dez dias de um mês. Contudo, segundo o contrato de trabalho, o operário seria obrigado a cumprir os demais vinte dias restantes para receber o seu salário de forma integral. Dessa forma, o dono da empresa pagaria o valor equivalente a dez dias trabalhados e receberia gratuitamente a riqueza produzida nos vinte dias restantes.
Essa modalidade de “mais-valia” era reconhecida pelo pensamento econômico marxista como a “mais-valia absoluta”. Paralelo a esse tipo de exploração, ocorria a “mais-valia relativa”, instalada pelo processo de modernização tecnológico do ambiente fabril. Nesse caso, o trabalhador adequava o exercício de suas funções ao uso de um novo maquinário capaz de produzir mais riquezas em um período de tempo cada vez menor.
Nesse caso, o trabalhador recebia o mesmo salário para desempenhar uma função análoga ou, em alguns casos, ainda mais simples. Graças à nova máquina ou técnica de produção utilizada, o dono da empresa necessitava de um número de dias ainda menor para cobrir o custo com o salário do trabalhador. Assim, ficava sendo necessários, por exemplo, apenas cinco dias trabalhados para que ele pudesse pagar pelo mesmo salário mensal que devia ao seu empregado.
A exposição dessa teoria foi um dos meios pelos quais Karl Marx provou que as relações de trabalho no mundo capitalista tinham caráter exploratório. Dessa forma, ele condensava mais um argumento favorável à oposição de interesses existentes na relação entre burguesia e proletariado. Além disso, essa mesma tese serviu de base para que vários operários lutassem pela obtenção de melhores salários e condições mais dignas de trabalho.
Entre esses intelectuais, o filósofo alemão Karl Marx apontou que esse abismo socioeconômico poderia ser explicado pela teoria da mais-valia. Segundo esse pensador, a miséria se perpetuava no mundo capitalista mediante os baixos salários oferecidos aos operários como um todo. Mais do que uma simples opção, o baixo salário era parte integrante dos instrumentos que garantiam os lucros almejados pela empresa.
Sendo assim, Marx indicou que o salário destinado a um trabalhador poderia ser pago com as riquezas que ele produz, por exemplo, ao longo de dez dias de um mês. Contudo, segundo o contrato de trabalho, o operário seria obrigado a cumprir os demais vinte dias restantes para receber o seu salário de forma integral. Dessa forma, o dono da empresa pagaria o valor equivalente a dez dias trabalhados e receberia gratuitamente a riqueza produzida nos vinte dias restantes.
Essa modalidade de “mais-valia” era reconhecida pelo pensamento econômico marxista como a “mais-valia absoluta”. Paralelo a esse tipo de exploração, ocorria a “mais-valia relativa”, instalada pelo processo de modernização tecnológico do ambiente fabril. Nesse caso, o trabalhador adequava o exercício de suas funções ao uso de um novo maquinário capaz de produzir mais riquezas em um período de tempo cada vez menor.
Nesse caso, o trabalhador recebia o mesmo salário para desempenhar uma função análoga ou, em alguns casos, ainda mais simples. Graças à nova máquina ou técnica de produção utilizada, o dono da empresa necessitava de um número de dias ainda menor para cobrir o custo com o salário do trabalhador. Assim, ficava sendo necessários, por exemplo, apenas cinco dias trabalhados para que ele pudesse pagar pelo mesmo salário mensal que devia ao seu empregado.
A exposição dessa teoria foi um dos meios pelos quais Karl Marx provou que as relações de trabalho no mundo capitalista tinham caráter exploratório. Dessa forma, ele condensava mais um argumento favorável à oposição de interesses existentes na relação entre burguesia e proletariado. Além disso, essa mesma tese serviu de base para que vários operários lutassem pela obtenção de melhores salários e condições mais dignas de trabalho.
quinta-feira, 24 de outubro de 2013
Crianças fazendo coisas de adulto
Vídeo mexicano que mostra crianças fazendo coisas de adulto, relacionadas à ações cotidianas. O vídeo reflete sobre ações corriqueiras, que acabam sendo copiadas por crianças. Assim como na realidade; deve se fazer uma reflexão da imagem que passamos aos outros, principalmente às crianças. Será que é mesmo este o mundo que queremos deixar para esta geração que está crescendo? Será que as políticas mexicanas se parecem com as brasileiras quanto a realidade?
domingo, 20 de outubro de 2013
sábado, 19 de outubro de 2013
3's + Filo + 4ºMA: Apostas de temas da atualidade para o ENEM + textos que caíram no vestibular da FUVEST.
Neste mês de outubro, no último final de semana acontecem as provas do ENEM, e mais em breve, as provas das federais. Fiquem atentos aos possíveis temas que podem cair nas redações!
Não se esqueçam também da dica! As questões relacionadas a humanas, as respostas normalmente estão na pergunta!
BOA SORTE A TODXS!
http://educacao.uol.com.br/album/2013/06/18/confira-dez-apostas-de-atualidades-para-o-enem-2013.htm#fotoNav=8
http://vestibular.uol.com.br/album/2013/09/20/confira-os-ultimos-temas-de-redacao-cobrados-na-fuvest.htm
3's + Filo + 4ºMA: No Enem, atualidades são pretexto para cobrar análise de conteúdos
Na preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), é importante que os candidatos estejam antenados nos principais acontecimentos do mundo, como a morte da ex-premiê britânica Margaret Thatcher e os recentes atentados na maratona de Boston, nos Estados Unidos. Contudo, esses eventos não são cobrados de forma enciclopédica, mas sim como pretexto para cobrar os conteúdos.
Essa é a visão de Tania Regina de Luca, professora do departamento de história da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Assis. "Esperamos que caiam questões que não cobrem simplesmente um conteúdo, mas um texto que permita que o aluno pense, mobilize habilidades e faça relações com outros conhecimentos que ele já tem a partir dessa situação nova", diz.
Mateus Prado, especialista em Enem do cursinho Henfil, concorda. "As atualidades são muito importantes, principalmente para a redação, mas podem cair como pano de fundo das questões", analisa. "Ninguém vai cobrar quem é o presidente do Egito ou quando começou a primavera árabe. A prova irá pedir cognição para você relacionar com conquistas de direito, democracia, por exemplo".
Prado acredita ainda que estar por dentro das atualidades ajuda no processo de formação de opinião. "Elas são fundamentais para que os candidatos consigam defender argumentações e saibam respeitar os direitos humanos, o meio ambiente e a defesa de minorias".
A pedido do UOL, Rui Alves Gomes de Sá, diretor pedagógico do Pré-Enem, da Abril Educação, e Tania de Luca, da Unesp, selecionaram temas que importantes que podem cair no Enem 2013; confira:
- Médicos estrangeiros no país: em maio, os governos do Brasil e de Cuba, com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, anunciaram a possível vinda de 6.000 médicos cubanos para trabalharem nas regiões brasileiras mais carentes. O anúncio gerou polêmica;
- Redução da maioridade penal: Após mortes ocasionadas por menores de idade do país, o debate da redução da maioridade foi amplamente retomado. Umapesquisa da CNT (Confederação Nacional dos Transportes) afirma que a ação é defendida por mais de 90% dos brasileiros. Contudo, órgãos e entidades, como a OAB, acreditam que a redução não diminuirá a criminalidade;
- Comissão da verdade: Com a morte de Jorge Videla, ditador argentino, Tania de Luca acredita que o exame pode abordar como foram diferentes os períodos da ditadura no Brasil e no resto da América Latina e o tipo de acerto de contas que estão sendo feitos;
- Crise na zona do euro: "Ela está colocando em risco a própria ideia de Europa. Existe um grave problema aqui. A França acabou de se assumir como país em depressão", analisa Tania;
- Primavera árabe: "Ela continua na Síria e agora na Turquia, onde há uma situação mais complexa. O estopim foi a possível criação de um shopping na maior área verde de Istambul e está se juntando com o processo de islamizar o país", conta a professora da Unesp;
- Margaret Thatcher: A morte da primeira e, até agora, única mulher a chefiar o governo do Reino Unido pode ser cobrada no Enem para que o candidato faça um balanço sobre a política externa que ela aplicou no país e sua relação com movimentos trabalhistas;
- Hugo Chávez: Após 14 anos no poder, a morte do venezuelano abre uma nova era para o país sul-americano. O assunto poderia embasar discussões sobre o populismo e questões relacionadas às instituições democráticas;
- Atentado em Boston: Os dois suspeitos apontados pelo FBI como responsáveis pelas explosões foram identificados como sendo os irmãos Dzhokhar, preso pela polícia, e Tamerlan, morto após tiroteio. Os dois são russos e residentes legais nos Estados Unidos há no mínimo um ano. O assunto pode ser relacionado com questões de extremismo religioso;
- Tensão entre as Coreias: A Coreia do Norte voltou a ameaçar a vizinha e os Estados Unidos de ataques com armas nucleares. No final de março, declarou "estado de guerra" com o Sul e, em 2 de abril, anunciou que reativará suas instalações nucleares, incluindo a principal, de Yongbyon, fechada em 2007;
- Vazamento sobre espionagem nos Estados Unidos: "É uma questão superinteressante. Agora não temos apenas o WikiLeaks", analisa Tania.
Tania acredita ainda que a questão das relações homoafetivas na França seria um tema conveniente de ser abordado no Enem 2013, mas duvida da possibilidade. "Não sei se em um país tão conservador, e ainda mais com a vinda do papa Francisco, o examinador poderia ter essa vontade", opina. "Mas é muito bom para entender as novas relações sociais".
Vale lembrar que esse ano teremos dois centenários: do escritório Rubem Braga e do poeta e compositor Vinicius de Moraes.
Contudo, para ficar por dentro de todos esses assuntos, não há outro jeito: bastante leitura. "O vestibulando deve estar sempre lendo jornais e revistas semanais, e ainda, se possível, ver noticiários na televisão porque só a partir daí ele vai conseguir estar por dentro do que acontece no mundo", diz Gomes de Sá.
terça-feira, 8 de outubro de 2013
3º's: Confira guia de estudos com 100 temas essenciais para o Enem
O UOL Educação preparou um guia de estudos focado no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e nos grandes vestibulares, como Fuvest, Unicamp e Unesp.
Professores de português, química, física, matemática, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, inglês e espanhol apontaram os assuntos que consideram mais importantes em cada uma dessas disciplinas. Os mais mencionados fazem parte dos cem temas selecionados.
Neste ano, as provas do Enem acontecem nos dias 26 e 27 de outubro.
1's: O que é biopoder para Foucault?
Biopoder para Focualt refere-se ao poder que o Estado tem sobre a população, o poder de fazer normas e se submetesse a elas, o poder de controlar não só a economia mais sim a vida de todos, sendo ele o poder soberano. O biopoder se conduzido com sucesso poderá expandir seu slogan e trazer sucesso em diversas áreas como: educação, saúde, porém também tem a capacidade de levar o país ao fracasso.
1's: Foucault, DO PODER DISCIPLINAR AO BIOPODER
DO PODER DISCIPLINAR AO BIOPODER
Ao longo dos séculos XVII e
XVIII, portanto, no que tange às relações de poder, muitas transformações
passam a ser operadas. A mais importante delas consiste certamente na
constatação foucaultiana de que o poder da soberania é substituído gradativamente
pelo poder disciplinar e, por conseguinte, as monarquias soberanas se convertem
aos poucos em verdadeiras sociedades
disciplinares. Mas a que se deve esta transformação histórica? É nesse
ponto que a pesquisa de Foucault revela que, ao longo desses dois séculos,
multiplicaram-se por todo o corpo social verdadeiras instituições de disciplina, tais como as
oficinas, as fábricas, as escolas e as prisões – que passam a constituir seu
objeto de investigação em Vigiar
e punir.
Ao contrário do que ocorre no
âmbito do poder da soberania, o poder disciplinar não se materializa na pessoa
do rei, mas nos corpos dos sujeitos individualizados por suas técnicas
disciplinares. Enquanto que o poder da soberania, ou poder soberano, se
apropria e expia os bens e riquezas dos súditos, o poder disciplinar não se
detém como uma coisa, não se transfere como uma propriedade: "o poder
disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e retirar, tem
como função maior adestrar;
ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor"
(Foucault 2001b: 143). Isso porque a modalidade disciplinar do poder faz
aumentar a utilidade dos indivíduos, faz crescer suas habilidades e aptidões e,
conseqüentemente, seus rendimentos e lucros. O poder disciplinar, através de
suas tecnologias de poder específicas, torna mais fortes todas as forças
sociais, uma vez que leva ao aumento da produção, ao desenvolvimento da
economia, à distribuição do ensino e à elevação da moral pública, por exemplo
(Foucault 2001b: 172).
Na medida em que a base da
sociedade passa a se ver de ponta a ponta atravessada por mecanismos de
disciplina, invertem-se também os princípios da centralidade e da visibilidade do poder. Vejamos como. Enquanto que,
no caso do poder da soberania, o poder encarnava-se na figura do soberano e
esse se encontrava, justamente por isso, no centro das relações de poder, já na
hipótese do poder disciplinar, não há um centro único de poder e nem mesmo uma
figura única que o encarna: o poder encontra-se nas periferias, distribuído e
multiplicado em toda parte ao mesmo tempo, materializado que está nos corpos
dos indivíduos a ele sujeitados. Além disso, observe-se que, no caso do poder
disciplinar, o poder se exerce por meio de uma extensa e ameaçadora
visibilidade da pessoa do soberano, a quem todos devem conhecer e reconhecer
posto que é a sua autoridade que centraliza os efeitos do poder. Ao contrário,
no caso do poder disciplinar, essa relação se inverte. Conforme veremos mais detidamente
logo a seguir, o poder disciplinar deve manter-se na invisibilidade para
funcionar, pois que a sua invisibilidade ressalta a visibilidade daqueles que a
ele se sujeitam, de modo que a sua eficácia é constante e permanente. Mas vamos
com calma até chegar lá.
Além da multiplicação das
instituições de disciplina, Foucault observou que os séculos XVII e XVIII
também assistiram a uma efusão de dispositivos
disciplinares ao longo de
toda a extensão da estrutura da sociedade. Mas em que consistem esses dispositivos
disciplinares? Em que consiste, afinal, a disciplina? A disciplina é uma
tecnologia específica do poder, ela é "um tipo de poder, uma modalidade
para exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de
procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma física ou uma
anatomia do poder, uma tecnologia" (Foucault 2001b: 177). Na medida em que
o poder disciplinar é uma modalidade de poder múltipla, relacional, automática
e anônima, a disciplina, por sua vez, também faz crescer e multiplicar aquilo e
aqueles que estão a ela submetidos. Nesse sentido, pode-se dizer que a
disciplina é uma técnica que fabrica indivíduos úteis. A disciplina faz crescer
e aumentar tudo, sobretudo a produtividade. E aqui se fala em produção não
apenas em um sentido econômico. Além de ampliar a produtividade dos operários
nas fábricas e oficinas, a disciplina faz aumentar a produção de saber e de
aptidões nas escolas, de saúde nos hospitais e de força no exército, por
exemplo. São por esses motivos, principalmente, que Foucault fala em um triplo
objetivo da disciplina: ela visa tornar o exercício do poder menos custoso –
seja econômica ou politicamente –, busca estender e intensificar os efeitos do
poder o máximo possível e, ao mesmo tempo, tenciona ampliar a docilidade e a
utilidade de todos os indivíduos submetidos ao sistema (Foucault 2001b:
179-180).
Quanto aos dispositivos
disciplinares, ou instrumentos do poder disciplinar, também são em número de
três os seus principais, quais sejam: o olhar hierárquico, a sanção
normalizadora e o exame. Vejamos brevemente cada um deles. O olhar hierárquico consiste antes na idéia mais ampla de vigilância. A vigilância é a
mais importante máquina, a principal engrenagem do poder disciplinar: ela
contribui para automatizar e desindividualizar o poder, ao passo que contribui
para individualizar os sujeitos a ele submetidos. Ao mesmo tempo, a vigilância
produz efeitos homogêneos de poder, generaliza a disciplina, expandindo-a para
além das instituições fechadas. Nesse sentido, pode-se dizer que ela assegura,
como explica Foucault, uma distribuição infinitesimal do poder.
Quais são, portanto, essas
novas mecânicas de poder que a vigilância traz consigo? A mais importante delas
é, sem dúvida, aquilo que Foucault considera ser uma espécie de 'ovo de
colombo' da política: o panóptico de Bentham. Essa espécie de utopia política
da arquitetura tem o condão de
fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo
se é descontínua em sua ação; que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a
atualidade de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de
criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce;
enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles
mesmos são portadores (Foucault 2001b: 166).
Ao ser adotada a arquitetura
circular nas prisões e escolas, nos hospitais e fábricas, enfim, em toda sorte
de instituições que tenham a marca da disciplina, o poder converteu-se em algo
invisível e inverificável. Para que o dispositivo disciplinar exerça-se
plenamente em todos os seus efeitos basta que aqueles que estão a ele
submetidos saibam que são vigiados ou, mais (ou menos) do que isso, que são potencialmente vigiados. A potencialidade da vigilância,
sua possibilidade apenas, é por si suficiente para que o poder disciplinar se
exerça justamente porque com ela uma sujeição real nasce de uma relação
fictícia. Esse caráter ficcional, por assim dizer, decorre do fato de que, ao
saberem-se sujeitos a um único olhar a tudo pode ver permanentemente, os
indivíduos disciplinam-se a si mesmos, e o fazem constantemente em simetria à
permanência desse olhar onipresente. Na medida em que a visibilidade constante
dos indivíduos e a invisibilidade permanente do poder disciplinar fazem com que
os indivíduos se adestrem, se ajustem e se corrijam inicialmente por moto
próprio, pode-se afirmar que a vigilância substitui a violência e a força. Sem
essas, passa a ser ainda possível se falar em um adestramento ou readestramento
espiritual, das almas, e não dos corpos.
Com a vigilância, o poder
disciplinar torna-se um sistema integrado, converte-se no conceito de diagrama.9 Não há um centro, não há um chefe no
topo da forma piramidal desse poder: a engrenagem como um todo produz poder.
Trata-se de um poder em essência relacional.
Daí Foucault afirmar que o poder disciplinar funciona como uma máquina, se
organiza como uma pirâmide e opera como uma rede. Com sua forma hierarquizada,
contínua e funcional, a vigilância também estabelece uma simetria crescente
entre poder e produção, poder e saber. Mais uma vez, a fórmula foucaultiana se
repete: quanto mais poder se exercer sobre os indivíduos, maior será a sua
produtividade; quanto mais o poder discipliná-los, mais saber eles gerarão.
O segundo dos principais
dispositivos disciplinares é a sanção
normalizadora. No núcleo de cada sistema disciplinar funciona um pequeno
mecanismo penal. A disciplina traz consigo uma maneira específica de punir. O
castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios, ele é corretivo. Com a
sanção, os indivíduos são diferenciados em função de sua natureza, de suas
virtualidades, de seu nível ou valor... eles são, enfim, avaliados, e por isso
são, por mais uma vez e por mais um motivo, individualizados. A punição
característica do poder disciplinar, contudo, não visa nem a expiação, nem a
repressão: "a penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla
todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia,
hierarquiza, homogeneíza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza" (Foucault
2001b: 153). Com o poder disciplinar surge, portanto, o poder da norma, que substitui – de forma
muito diferenciada, é claro – o papel que a lei desempenhava no regime do poder
da soberania. Saiu de cena a codificação dos comportamentos para entrar em cena
a normalização das condutas.10
Finalmente, o exame é o último dos dispositivos do poder
disciplinar que nos resta comentar. Antes de mais nada, cabe ressaltar que ele
consiste em uma espécie de articulação entre a vigilância e a sanção
normalizadora. Em outras palavras, o exame constitui o indivíduo como objeto
para análise e posterior comparação. Trata-se de um controle normalizante, uma
vigilância que permite qualificar, classificar e punir. O exame estabelece
sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e
sancionados. Disso decorre que o exame é o resultado do somatório entre
objetivação e sujeição: "ele manifesta a sujeição dos que são percebidos
como objetos e a objetivação dos que se sujeitam" (Foucault 2001b: 154).
Objetivação essa, ressalte-se, que opera pela concomitância entre a
visibilidade dos sujeitos e a invisibilidade da disciplina. Ritualizado ao
extremo, o exame tem ainda, e mais uma vez no sistema foucaultiano, o atributo
de colocar em funcionamento relações de poder que permitem obter saber. Mais do
que isso, com o exame, o indivíduo passa a ser, ao mesmo tempo, efeito e objeto
do poder e do saber: "o exame não se
contenta em sancionar um aprendizado; é um de seus fatores permanentes"
(Foucault 2001b: 155).
A vigilância do pan-óptico, a
disciplina e o exame: todos os dispositivos disciplinares funcionam, portanto,
como um laboratório de poder, proporcionando um aumento de saber em todas as
suas frentes. Durante a segunda metade do século XVIII, no entanto, essas
tecnologias disciplinares do poder passam a ser acrescidas, integradas por
outras e novas técnicas de poder que não possuem em sua essência, contudo, a
idéia de disciplina. Antes de passarmos a analisar essa nova tecnologia de
poder que é o biopoder, o Quadro
1, abaixo, nos apresenta uma espécie de contraposição entre as modalidades
soberana e disciplinar do poder, comentadas acima.
O poder disciplinar, portanto,
passa, a partir da segunda metade do século XVIII, a ser complementado pelo
biopoder. Complementado porque não se opera efetivamente uma substituição, mas
apenas uma pequena modificação – ou adaptação –, e jamais uma exclusão. Em
outras palavras, o biopoder implanta-se de certo modo no poder disciplinar,
ele embute e integra em si a disciplina, transformando-a ao seu modo. O
biopoder "não suprime a técnica disciplinar simplesmente porque é de outro
nível, está noutra escala, tem outra superfície de suporte e é auxiliada por
instrumentos totalmente diferentes" (Foucault 1999: 289). Ambas as
espécies de poder passam assim, portanto, a coexistir no mesmo tempo e no mesmo
espaço.
São muitas as variações,
entretanto, encontradas entre as duas mecânicas de poder em questão. Ao passo
que o poder disciplinar se faz sentir nos corpos dos indivíduos, o biopoder
aplica-se em suas vidas. Enquanto a disciplina promove a individualização dos
homens, o biopoder acarreta uma massificação, tendo em vista que ele se dirige
não aos indivíduos isolados, mas à população. Daí que os efeitos do biopoder se
fazem sentir sempre em processos de conjunto, coletivos, globais... processos
esses que fazem parte da vida, da vida de uma população: os nascimentos, as
doenças e as mortes constituem exemplos desses processos. E o biopoder trata
exatamente do conjunto desses processos de natalidade, longevidade e
mortalidade, seja comparando a proporção dos nascimentos e dos óbitos, seja
verificando a taxa de fecundidade de uma população. Enfim, são vários os
exemplos cedidos por Foucault para explicar essa modalidade de poder.
O que é importante perceber é
que em todos esses processos nos quais se exerce o biopoder há
concomitantemente uma extensa produção de saber. Entram em campo as ciências
exatas e biológicas: a Estatística e a Biologia, principalmente, passam a ser
extremamente importantes nesse momento em que se necessitam de demografias,
políticas de natalidade, soluções para endemias, entre outras coisas mais. A
questão da higiene pública passa a ser a principal pauta da Medicina e, com
ela, podemos pensar que o biopoder assume uma certa forma de poder de polícia,
tal como entendemos essa última modalidade de poder contemporaneamente. O
biopoder traz ainda consigo novos mecanismos e novas instituições, tais como a
poupança e a seguridade social (Foucault 1999: 290-291).
É, portanto, a cidade e a população que entram em cena no regime do
biopoder. E isso é relevante, segundo Foucault, porque nem o poder da soberania,
nem o poder disciplinar operavam com essas noções. A cidade e a população
passam a ser problemas políticos, problemas da esfera do poder. E esses
problemas ou fenômenos também apresentam outras características em si
peculiares. Eles são, por exemplo, essencialmente problemas coletivos, de
massa, cuja ocorrência se dá sempre em série e nunca de forma isolada ou
individualizada. O biopoder não intervém no indivíduo, no seu corpo, como faz o
poder disciplinar; ao contrário, intervém exatamente naqueles fenômenos
coletivos que podem atingir a população e afetá-la – disso decorre que precisa
estar constantemente medindo, prevendo, calculando tais fenômenos e, para isso,
o biopoder cria algunsmecanismos reguladores que o permitam realizar tais
tarefas como, por exemplo, aumentar a natalidade e a longevidade, reduzir a
mortalidade e assim por diante.
Os mecanismos de previdência –
ou prevenção –, criados com o biopoder, sinalizam uma preocupação com a
otimização da vida e não, perceba-se, uma maximização de forças que a
disciplina do poder disciplinar tenta por si assegurar. Com efeito, a
disciplina, no âmbito do biopoder, é convertida em regulamentação. Regulamenta-se
para assegurar e garantir a vida, para prevenir e evitar a morte. Essa
regulamentação, ressalte-se, não é exclusiva do Estado. Foucault menciona uma
série de focos do biopoder que se localizam no âmbito infra e paraestatal. É o
caso, por exemplo, de algumas instituições médicas, das caixas de auxílio e dos
seguros (Foucault 1999: 293-299).
Poder disciplinar e biopoder,
afinal, sobrepõem-se e superpõem-se constante e incessantemente. O melhor
exemplo que Foucault fornece dessa espécie de acoplagem entre as duas
modalidades de poder é dado pelo tema da sexualidade. De acordo com Foucault, a
sexualidade se tornou um campo de importância estratégica no século XIX
justamente porque dependia, simultaneamente, de processos disciplinares e
biológicos, individualizantes e massificantes, controladores e regulamentadores...
enfim, a sexualidade se situa exatamente entre os corpos dos indivíduos
singulares e a unidade múltipla da população. No campo do saber produzido em
conjunto pela fusão entre as mecânicas disciplinares e biopolíticas do poder,
Foucault nos dá o exemplo da Medicina como um tipo de poder-saber que incide
concomitantemente sobre os corpos individuais e sobre a população. A Medicina,
portanto, assim como a sexualidade, possui tanto efeitos disciplinares como
efeitos regulamentadores (Foucault 1999: 300-302).
Há portanto um elemento em
comum que transita entre o poder disciplinar e o biopoder, entre a disciplina e
a regulamentação, e que possibilita a manutenção do equilíbrio entre a ordem
disciplinar do corpo e a ordem aleatória da população. Esse elemento é a norma, "que pode tanto se
aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma população que se quer
regulamentar" (Foucault 1999: 302). A norma da disciplina e a norma da
regulamentação dão origem ao que Foucault chama de sociedade de normalização, uma
sociedade regida por essa norma ambivalente, na qual coexistem indivíduo e
população, corpo e vida, individualização e massificação, disciplina e
regulamentação.
Dizer que o poder, no século XIX, tomou posse da vida, dizer pelo
menos que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que ele
conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do
corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma
parte, e das tecnologias de regulamentação, de outra (Foucault 1999: 302).
O Quadro
2, abaixo, apresenta uma justaposição entre os elementos e as
características do poder disciplinar e do biopoder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso ter cuidado para não
confundir os conceitos que Foucault teceu para compreender historicamente o
poder tal como ele se manifestou ao longo dos séculos (estamos falando,
evidentemente, do poder disciplinar e do biopoder) e o significado do conceito
de poder, este apenas em forma abstrata, que criou para lograr opor-se às
teorias tradicionais do poder e, assim, promover a limpeza de terreno
necessária para colocar em prática a sua analítica – ou genealogia – do poder.
O poder disciplinar e o biopoder, portanto, assim como o poder da soberania,
operam como categorias historicamente constituídas, ou melhor, são chaves de
análise e interpretação do poder tal como ele se manifestou através de seus
efeitos na história da sociedade ocidental. Enquanto categorias analíticas,
descritivas, contudo, o poder disciplinar e o biopoder servem como instrumentos
para que Foucault crie ainda uma nova categoria; na verdade, um novo conteúdo,
um novo significado para o conceito de poder.
Pode-se pensar, por
conseguinte, que, com Foucault, o conceito de poder passa a ganhar um sentido
emancipatório, libertador, ao liberar-se do estigma, do falso estigma, da
repressão. Ao emancipar-se desse falso atributo e passar a conter em si mesmo o
ideal de emancipação, o poder, agora visto como algo positivo, irrompe também
como pura e plena produtividade. O poder produz:
ele constrói; destrói e reconstrói; ele transforma, acrescenta, diminui,
modifica a cada momento e em cada lugar a si mesmo e a cada coisa com a qual se
relacione em uma rede múltipla, móvel, dinâmica, infinita... o poder é produção
em ato, é a imanência da produtividade. Acima de tudo, como vimos, o poder está
em estreita relação com o saber. Poder e saber se produzem e auto-reproduzem,
estabelecem uma relação de mútua dependência – e de mútua independência –
produzindo, dessa fusão interprodutiva, um novo conceito: o poder-saber.
Quando compreendemos o conceito
foucaultiano de poder dessa forma, ou melhor, quando conseguimos o enxergar
além da analítica e do olhar historiográfico de seu autor, ele parece ser algo
bem distante daquilo que a história do pensamento político – e jurídico também,
por que não? – sempre definiu como poder. Esse novo conceito de poder parece se
assemelhar com um outro cunhado no século XVII na contramão da intensa produção
teórica-política que, naquela época, consolidou definitivamente o significado
jurídico-repressivo do poder que Foucault tanto quis rejeitar e evitar. Estamos
falando do conceito de potência, criado por Spinoza na contracorrente do
movimento contratualista que assolou seu século e fez entrar, definitivamente,
para a História o significado do poder enquanto soberania, lei, repressão.
Na última fase de sua obra,
hoje freqüentemente denominada de "hermenêutica do sujeito", Foucault
parece ainda acrescer ao seu conceito de poder um certo caráter autopoiético,
no sentido de um autogoverno, um cuidado de si que autocapacita e, em última
instância, também emancipa. Esses últimos desdobramentos adquiridos pelo
conceito foucaultiano de poder em suas obras finais – especialmente em algumas
entrevistas e textos esparsos e nos dois últimos volumes da História da sexualidade – parecem torná-lo ainda mais próximo
do conceito de potência de Spinoza. Mas essa análise, bem como uma investigação
acerca das possíveis relações entre esses dois conceitos, não poderá ser feita
aqui e terá de se constituir tema de um outro trabalho futuro, no qual o
conceito de poder foucaultiano seja analisado não mais sob o prisma genealógico
como fizemos aqui, mas sim sob o novo ângulo que marca a segunda e derradeira
fase de sua obra.
Assinar:
Comentários (Atom)